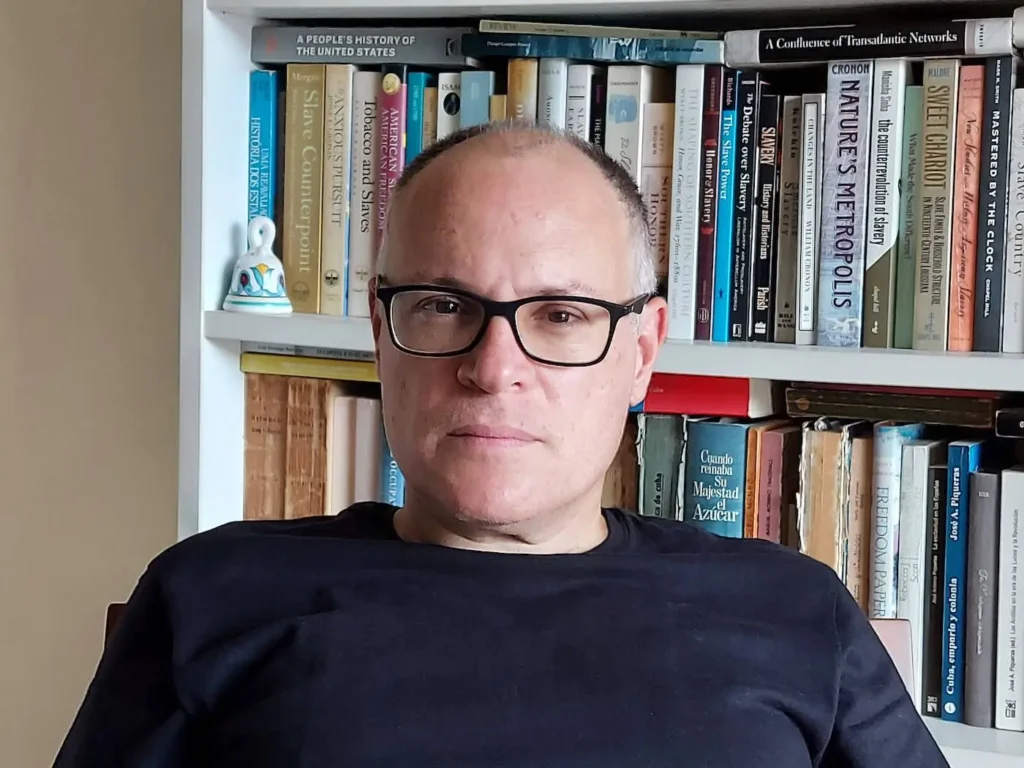As universidades são compostas por vários espaços onde o conhecimento é produzido, revisado e compartilhado: salas de aula, gabinetes, bibliotecas, auditórios, corredores, programas de pós-graduação e até cantinas. Os laboratórios têm um papel de destaque nesse circuito, ao reunir, com regularidade, estudantes, pesquisadores e professores. Na Universidade de São Paulo (USP), um desses laboratórios é o LabMundi, coordenado pelos professores Alexandre Moreli e João Paulo Pimenta.
Tendo completado dez anos em 2023, o Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial (LabMundi) reúne pesquisadores brasileiros e estrangeiros que investigam as relações do Brasil com o sistema mundial moderno ou que exploram a história das relações entre povos e sociedades em diferentes tempos e espaços – algo que alguns têm chamado de “História Global” (algo que o LabiMundi pensa diferente).
Para falar sobre as atividades do LabMundi, conversei com um de seus pesquisadores, o historiador Rafael de Bivar Marquese, membro do conselho deliberativo do laboratório. Doutor em História, Marquese é Professor Titular do Departamento de História da Universidade de São Paulo e foi um dos fundadores do LabMundi. Nessa conversa, Marquese mostra que laboratório não é só um espaço de encontro: o LabMundi possui um projeto historiográfico moldado ao longo de suas atividades.
O que é História Global?
Como quase sempre ocorre no campo do saber histórico, a pergunta pode conter respostas distintas. Em linhas gerais, os historiadores que reivindicam o termo nos dias correntes definem a História Global como uma prática que procura superar o nacionalismo metodológico – ou seja, o procedimento de se tomar o Estado-nação como a unidade básica de análise histórica – por meio da busca das conexões e integrações existentes entre múltiplos espaços históricos, não necessariamente contidos em unidades políticas previamente determinadas.
Você pode me dar um exemplo do que seria um caso de nacionalismo metodológico?
Poderia dar inúmeros exemplos de excelentes obras, pois o nacionalismo metodológico é que constitui o campo de todas as historiografias nacionais, incluindo a nossa. Vou me ater a um caso de uma autora que me é particularmente cara, decisiva em minha formação: o livro “Da Senzala à Colônia”, de Emília Viotti da Costa, publicado originalmente em 1966.
Ao examinar o processo de crise e desagregação do sistema escravista brasileiro ao longo do século XIX, Emília se concentrou exclusivamente no Império do Brasil, deixando de ver como o que aqui se passou se articulava, em realidade, a processos bem mais amplos de expansão e de crise da escravidão em espaços como Cuba e Estados Unidos.
Os membros do LabMundi têm críticas à maneira como a História Global é frequentemente produzida atualmente. Poderiam comentar um pouco sobre essas críticas e os principais pontos de debate?
O que hoje se entende por História Global é basicamente uma criação acadêmica do universo anglo-saxão, vendida como grande novidade a partir do começo do século XXI. Em nossas discussões travadas no Laboratório, salientamos a cada passo como o que se apresenta como novidade no bazar das ciências históricas simplesmente repete práticas há muito adotadas sob outras denominações e roupagens. Isto vale, em especial, para nós, historiadores latino-americanos.
Nas obras dos autores marxistas latino-americanos e caribenhos, daqueles vinculados formal e informalmente à Escola dos Annales e dos formuladores e dos críticos da teoria da dependência, sempre houve a preocupação em articular o que se passava localmente nos espaços latino-americanos às forças mais amplas do capital e do colonialismo, de natureza necessariamente global. A tomada de consciência de nossa condição periférica no curso da crise global dos anos 1930 nos levou desde cedo a olharmos para o mundo sem sermos paroquiais.
A assim chamada História Global, em resumo, há muito é praticada na América Latina, no Brasil e, em especial, na USP. Basta lembrarmos, por exemplo, o livro clássico de Fernando Novais, da década de 1970, “Portugal e Brasil na crise do Antigo Sistema Colonial, 1777-1808”.
Uma das discussões historiográficas mais importantes das últimas décadas, sobre a chamada 2ª Escravidão, envolveu vários membros associados ao LabMundi. Como vocês avaliam o papel desempenhado pelo Laboratório nessa discussão?
O argumento da 2ª escravidão aponta para a descontinuidade histórica de fundo que se deu, no longo século XIX, nas práticas globais de exploração do trabalho compulsório. Os debates a respeito do assunto mobilizaram e ainda mobilizam um bom número de pesquisas no LabMundi – aliás, como esclarece nosso livro recém-lançado, uma das origens do Laboratório esteve justamente na interlocução com a rede de historiadores internacionais que operam com o conceito. Mas, o que se fez e o que se faz dentro do LabMundi sempre foi muito além das pesquisas sobre escravidão.
O princípio da pluralidade, da abertura temática e teórica, é algo sobre o qual conversamos com frequência no âmbito do Laboratório. Tenho me voltado cada vez mais para a história das mercadorias, a história ambiental e a história do trabalho, cruzando essas dimensões por meio de uma história global do café.
Em meados de 1950, a imprensa soltou uma bomba que chocou a opinião pública brasileira: o imigrante letão Herberts Cukurs, criador e proprietário dos pedalinhos da Lagoa Rodrigo de Freitas, cartão postal do Rio de Janeiro, havia cometido crimes de guerra durante a ocupação nazista da Letônia. Neste livro, que vai virar filme, o historiador Bruno Leal, professor da Universidade de Brasília e criador do Café História, investiga o chamado “Caso Cukurs”, desde a chegada de Cukurs no Brasil até a sua execução por agentes secretos do Mossad, de Israel. Livro disponível nas versões impressa e digital. Gosta de Segunda Guerra Mundial? Esse livro não vai deixar a desejar. Confira aqui.
João Paulo Pimenta, um dos principais historiadores da Independência do Brasil, é igualmente ligado ao enorme empreendimento intelectual do IberConceptos, o projeto de uma história conceitual do mundo ibero-americano na passagem do século XVIII para o XIX.
Alexandre Moreli, nosso atual coordenador com Pimenta, destaca-se como um pesquisador de ponta em temas tão diversos como o da História Global da Guerra Fria, do Terceiro Mundismo e do diálogo da Ciência da Computação com a História. E Rodrigo Goyena, por sua vez, está neste momento desenvolvendo um ambicioso projeto sobre a História Global do Rio da Prata.
Em cada uma dessas iniciativas, associam-se historiadores e historiadores nos mais diversos graus de carreira, da graduação ao pós-doutorado. E, mais recentemente, passamos a contar também com o professor Daniel Gomes de Carvalho, pioneiro no campo da História Pública no Brasil, parceiro de longa data do Café História, e está escrevendo neste momento uma História Global do Iluminismo.
Atualmente, vocês estão relendo Fernand Braudel (1902-1985), que é um historiador francês muito importante, inclusive para a formação da Universidade de São Paulo. Por que ainda faz sentido ler Braudel?
Resposta simples e direta: todo o programa da atual História Global já estava contido na obra dele. Se um dos pressupostos do Laboratório é o de que o campo não constitui novidade, temos que explorar a fundo as implicações disso. Mas a resposta à pergunta exige mais.
O Mediterrâneo é um livro manjadíssimo, porém daqueles que se conhece por ouvir dizer, por se ler aqui e ali passagens específicas e, acima de tudo, pela leitura dos resumos de comentadores. Quando se enfrenta diretamente o livro, é surpresa atrás de surpresa. O espaço que o político ocupa no livro, por exemplo, é crucial.
Daria para escrever um volume inteiro sobre as desleituras de Braudel, de deslizamentos e equívocos cometidos por historiadores de peso ao tratarem da obra dele. Alguns são de grande renome, como Giovanni Levi, Kenneth Pomeranz, Jacques Revel e François Dosse. Isto para não falarmos de historiadores brasileiros.
O que hoje se entende por História Global é basicamente uma criação acadêmica do universo anglo-saxão, vendida como grande novidade a partir do começo do século XXI. Em nossas discussões travadas no Laboratório, salientamos a cada passo como o que se apresenta como novidade no bazar das ciências históricas simplesmente repete práticas há muito adotadas sob outras denominações e roupagens.
A equação que equivale Braudel à Segunda Geração da Escola dos Annales simplesmente não fecha: a obra dele é muito mais aberta e plástica do que a de um Ernest Labrousse, com quem ele é frequentemente confundido. Mais importante que tudo: Braudel foi o formulador pioneiro da teoria dos tempos históricos plurais, com um caminho todo próprio para a abordagem da história global.
Enquanto enfrentar o desafio de escrever histórias que deem conta dessa pluralidade é uma preocupação central para praticamente todas as pesquisas desenvolvidas por nós, temos que encarar os desafios que a obra braudeliana traz. Sim, ainda faz todo o sentido ler Braudel.
O nome do laboratório é “Laboratório de Estudos sobre o Brasil e o Sistema Mundial”. O que seria “sistema mundial”?
A perspectiva analítica do sistema mundial, tal como proposta originalmente por Immanuel Wallerstein e Terence Hopkins, era uma referência comum importante para os dois fundadores do Laboratório (João Paulo Pimenta e Rafael Marquese).
É crucial ter em mente que Hopkins e Wallerstein, ao lançarem seu programa, beberam diretamente nas tradições das ciências sociais históricas da América Latina sumarizadas em resposta anterior, isto é, no marxismo caribenho e latino-americano e no pensamento cepalino e na teoria da dependência, cruzando-os com outros aportes, como os de Karl Polanyi e, em especial, de Fernand Braudel.
Temos, aqui, um claro circuito de trocas intelectuais não-assimétricas, realizadas em pé de igualdade. Ao batizarmos nosso Laboratório desta forma, assinalamos, por um lado, o peso intelectual das tradições pregressas nas quais nos inscrevemos e, por outro, o conteúdo politicamente radical – verdadeiramente decolonial, para usarmos a linguagem corrente – que nos informa.
Para marcar a sua década de existência, o LabMundi está lançando um livro coletivo, disponível para download gratuito. O que os leitores podem esperar dessa obra?
Pluralidade temática, teórica e metodológica. Em textos curtos, procuramos apresentar da forma mais direta possível parte das pesquisas que realizamos, com reflexões sobre como o leque de leituras teóricas e metodológicas realizadas ao longo de uma década nos informam em nosso fazer historiográfico. Vale citar Braudel aqui uma vez mais. Na intervenção final que ele fez no seminário de inauguração do Fernand Braudel Center na Universidade de Binghamton, em 1977, ele foi muito claro quanto ao seu conceito:
“A globalidade, a história global que defendo, impôs-se a mim pouco a pouco. É algo extremamente simples (…) A globalidade não é a pretensão de escrever uma história total do mundo. Não é essa pretensão infantil, simpática e maluca. É simplesmente o desejo, uma vez enfrentado um problema, de ir sistematicamente além dos seus limites. Não há nenhum problema de história, a meu ver, que seja cercado por muros, que seja independente.”
Ao operarmos com múltiplas escalas espaço-temporais, com problemáticas que cruzam a todo momento as dimensões do mental e do material, sem nos apegarmos a marcos nacionais estanques, estamos simplesmente tentando praticar o que Braudel definiu como História Global.
Como citar este artigo
MARQUESE, Rafael de Bivar. “Todo o programa da atual História Global já estava contido na obra de Braudel”. Entrevista feita por Bruno Leal Pastor de Carvalho. In: Café História. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/lab-mundi-historia-global-rafael-marquese/ Publicado em: 3 de fevereiro de 2025. ISSN: 2674-5917