No mundo contemporâneo, transições para a democracia são processos complexos e, não raro, colocam os agentes políticos diante de problemas amplos e sem precedentes. Guerras civis, conflitos étnicos, regimes totalitários e ditatoriais são, afinal, marcados por uma violência cujas consequências costumam persistir mesmo após a transição, levando para o novo regime heranças e problemas que precisam ser solucionados. Punir ou não os responsáveis por violações dos direitos humanos, buscar a verdade e construir políticas de memória e reparação, por exemplo, são algumas das questões mais evidentes que se impõem em contextos transicionais e de consolidação democrática.

Foi diante desses desafios que se construiu a chamada Justiça de Transição. O objetivo deste artigo é explicar os significados deste termo, o seu desenvolvimento e a sua importância tanto para a cidadania quanto para a consolidação das democracias.
A origem do termo
A expressão justice in times of transition (em português: “justiça em tempos de transição”), que deu origem ao termo, surgiu durante uma conferência proferida pela professora da Escola de Direito de Nova York Ruti Teitel, especialista em direito internacional, em 1992. Entretanto, muitas das questões que permeiam o termo já eram discutidas nos anos 1970 e 1980 por cientistas políticos que estudavam os processos de transição e consolidação democráticas, a exemplo de Guillermo O’Donnell, Philippe Schmmiter e Samuel Huntington. Estas duas décadas, vale destacar, foram marcadas por processos transicionais que instigaram esse tipo de reflexão. O Brasil e outros países vizinhos, como a Argentina, o Uruguai e o Chile, por exemplo, experimentavam processos transicionais de suas ditaduras militares. O Sul e o Leste europeus também viviam algo semelhante.
O desenvolvimento do termo
Nos últimos anos, o termo Justiça de Transição vem recebendo atenção de diversas áreas do conhecimento. A partir do que propõe o Paul Van Zyl, podemos definir que o objetivo da Justiça de Transição é revelar a verdade sobre crimes passados, processar os violadores dos direitos humanos, buscar reparação às vítimas, reformar as instituições ligadas de algum modo a essas violações e promover políticas de reconciliação no meio social. Vale destacar, no entanto, que diversos estudiosos elaboram outras definições, mais ou menos sofisticadas, mas que contém os mesmos pilares de memória, verdade e justiça.
A aplicação do termo a realidades históricas específicas provocou algumas controvérsias, sobretudo porque as especificidades de cada caso seriam incompatíveis com a carga de normatividade que o termo traz consigo. Não por acaso, percebe-se certa elasticidade em sua utilização nos últimos anos, notadamente para definir processos históricos nos quais algumas dessas medidas se deram: não em momentos transicionais propriamente, mas em períodos de consolidação democrática, isto é, anos depois que a transição para a democracia foi realizada. É o caso do Brasil, por exemplo, onde a Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi criada quase 20 anos após o fim da ditadura militar. Para alguns autores, outro problema residiria aí: transição e consolidação seriam tempos diferentes. Como falar de Justiça de Transição fora da transição? Ou, melhor, por quê?
A literatura especializada
A aplicação do termo a contextos não transicionais tem sido cada vez mais frequente na literatura especializada porque, em muitos casos, os objetivos da Justiça de Transição, no todo ou parcialmente, foram implementados em momentos que poderíamos definir como sendo de consolidação da democracia. Muitos especialistas defendem, inclusive, que a Justiça de Transição seria uma condição para esta consolidação e para a garantia de não repetição das atrocidades.
Ainda assim, as interpretações são diversas. Renan Quinalha, por exemplo, defende que “justiça de consolidação” ou “justiça”, sem adjetivos, se adequariam melhor a esses casos específicos que, de maneira equivocada, tomam consolidação por transição. Há também estudiosos que fazem uso do termo entre aspas – “Justiça de Transição” – para indicar algo fora de seu contexto habitual ou, como o faz o cientista político António Costa Pinto, que recomendam usá-lo stricto sensu, ou seja, somente em contextos transicionais, no intervalo entre um regime e outro.
Além dos autores já citados, há o caso de trabalhos que analisam experiências históricas concretas à luz da Justiça de Transição. Ainda que não façam uso do termo propriamente ou o façam com reservas, discutem os problemas enfrentados pelos processos de justiça transicional. Trata-se de um campo interdisciplinar que, nos últimos anos, tem atraído a atenção de advogados e historiadores, por exemplo. Os primeiros têm contribuído de modo eficaz com as questões jurídicas que envolvem o tema – aliás, o direito internacional e sua jurisprudência quanto à garantia dos direitos humanos, e as responsabilidades estatais quanto às suas próprias violações são questões recorrentes; os segundos têm lidado com o boom de memórias sobre “passados sensíveis” recentes e suas implicações no tempo presente, além das disputas por verdade, reparação e justiça.
Tanto no Brasil quanto no exterior, há vários trabalhos que podemos chamar de “clássicos”. É o caso de “Transitional Justice”, de Ruti Teitel, e de “Closing the books: transitional justice in historical perspective”, de Jon Elster, lançados em Nova York em 2000 e 2004 respectivamente. No Brasil, podemos destacar uma coletânea organizada por Inês Prado Soares e Sandra Kishi, intitulada “Memória e verdade: a justiça de transição no Estado democrático brasileiro”, lançada em 2009. Convém citar ainda a obra “Las políticas hacia el pasado: juicios, depuraciones, perdón y olvido en las nuevas democracias”, organizado por Alexandra Barahona de Brito, Paloma Aguilar Fernández e Carmen Gonzáles, lançada nos Estados Unidos em 2001 e na Espanha em 2002, e o trabalho organizado pelo historiador catalão Ricard Vinyes, intitulado “El estado y la memoria: gobierno y ciudadanos frente a los traumas de la historia”, publicado em 2009 também na Espanha. Acredito que todos esses estudos são ricos, pois vão desde debates mais conceituais sobre o tema até a análise de casos mais concretos, contemplando estudiosos de diferentes áreas que, ainda que não usem propriamente o termo Justiça de Transição ou o façam com reservas, se debruçam sobre um mesmo objeto e buscam enfrentar os distintos desafios acadêmicos e sociais que o processo de redemocratização traz.
As experiências históricas
No Brasil, o processo de transição para a democracia não levou adiante nenhum dos objetivos que dizem respeito à Justiça de Transição. Pelo contrário, através da Lei de Anistia de 1979 (Lei nº 6.683), os militares buscaram interditar qualquer medida no sentido de remexer no passado, e as alianças políticas que permitiram uma “transição segura”, pelo alto, deixaram de fora da agenda política naquele momento questões relativas às violações de direitos humanos durante a ditadura militar. As políticas de memória, verdade e reparação contempladas no país se deram no momento democrático. Cenário muito diferente daquele da vizinha Argentina, que vivenciou outro processo. Diferentemente do nosso, lá, de imediato, foi criada uma comissão da verdade e se levou a julgamento os perpetradores das violações de direitos humanos, ainda que o processo tenha passado por algumas reviravoltas.1
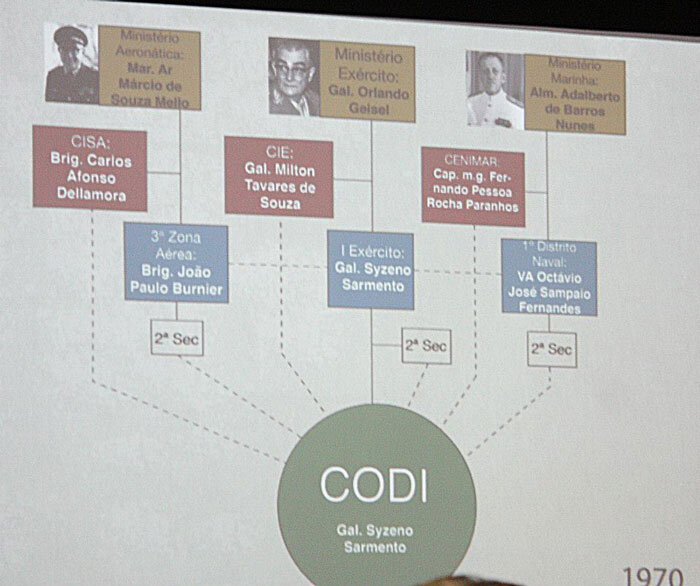
A primeira medida reparatória no Brasil deu-se somente dez anos após o fim da ditadura militar, em 1995, com a Lei dos Desaparecidos Políticos (Lei n. 9.140), durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. A lei conferiu indenização financeira aos familiares de mortos e desaparecidos políticos e constituiu uma comissão permanente para buscar identificar e elucidar outros casos. Posteriormente, nos governos de Lula (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-2016), outras medidas foram adotadas, sendo a de maior impacto a criação da Comissão Nacional da Verdade (CNV), que atuou entre os anos de 2012 e 2014 – favorecendo em nosso país a atenção de mais estudiosos para o tema da Justiça de Transição, como atestam as inúmeras pesquisas já desenvolvidas ou em desenvolvimento.
O historiador francês Henry Rousso, autor de “Le Syndrome de Vichy” (Em português, A Síndrome de Vichy), publicado no início dos anos 1990, falou a respeito de um “passado que não passa”. Entendo, contudo, que os processos de Justiça de Transição são importantes não apenas por buscar reparar, em distintos âmbitos, as atrocidades de um passado. Ajudam também a fomentar um debate público sobre esse passado capaz de construir consciência histórica e fortalecer os regimes democráticos que se erguem após períodos de violência política. Ou seja, a Justiça de Transição processa esse passado, o faz passar ou, pelo menos, ameniza suas feridas.
As experiências históricas com as quais a Justiça de Transição têm lidado comprovam que, por mais forte que tenham sido os regimes violentos durante sua vigência e seu controle nos rumos do processo de transição – notadamente proclamando autoanistias para livrar perpetradores de futuras punições –, as heranças de um passado são incontroláveis e não respeitam pactos políticos de silêncio e impunidade.
Notas
1 O presidente Carlos Menem, através de decretos publicados entre outubro de 1989 e dezembro de 1990, indultou cerca de 1.200 pessoas, civis e militares, que cometeram crimes durante a ditadura na Argentina, incluindo os membros das juntas militares condenados em 1985. As leis de Ponto Final e Obediência Devida e os indultos são conhecidos como as “leis de impunidade”. Entretanto, em 2003, durante o governo de Nestor Kirchner, o Congresso da Nação Argentina declarou a nulidade destas leis, e alguns juízes declararam inconstitucionais estes indultos.
Referências
TEITEL, Ruti. Transitional Justice Genealogy. Harvard Human Rights Journal, v. 16, 2003.
VAN ZYL, Paul. Promoting Transitional Justice in Post-Conflict Societies. In: BRYDEN, Alan; HÄNGGI, Heiner (eds.). Security Governance in Post-Conflict Peacebuilding. Genebra: DCAF, 2005.
QUINALHA, Renan. Justiça de Transição: contornos do conceito. São Paulo: Outras Expressões; Dobra Editorial, 2013.
PINTO, António Costa. O passado autoritário e as democracias da Europa do Sul: uma introdução. In: PINTO, António Costa; MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes. O passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina. São Paulo: Civilização Brasileira, 2013.
ROUSSO, Henry. Le Syndrome de Vichy: de 1944 à nos jours. 2ªed. Paris: Seuil, 1990.
Como citar este artigo
TEÓFILO, João. Justiça de Transição: o que fazer com as heranças de um passado violento. In: Café História. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/justica-de-transicao-historia/. Publicado em: 7 mai. 2018. Acesso: [informar data]

