Bruno Leal – da redação. Jurandir Malerba e Café História têm uma longa e afetuosa relação. Éramos ainda uma rede social em sua primeira infância quando o professor do Departamento de História da UFRGS já tinha perfil e contribuía ativamente para fóruns e outras discussões. Desde então, nossa parceria foi se revelando mais e mais profícua: Malerba gravou vídeos, deu depoimentos, divulgou seus livros por aqui e compartilhou nossos conteúdos em seus perfis de redes sociais. Em comum, aquilo que mais nos unia, a preocupação em discutir história acadêmica com diferentes públicos.
Em mais um ato dessa parceria que já conta com bem mais do que dez aniversários, publicamos uma nova e instigante entrevista com Jurandir, preparada e conduzida pela historiadora Flávia Varella, professora de Teoria da História na Universidade Federal de Santa Catarina, Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Teoria e História da Historiografia e Editora-chefe da importante revista História da Historiografia: International Journal of Theory and History of Historiography.
Nesse papo, Malerba fala sobre seu novo livro, “Brasil em Projetos” (FGV, 2020), e sobre o desafio de discutir a história do país com um público sem formação em História. Para ele, é fundamental que historiadores se envolvam com sínteses históricas, mas sem abdicar daquilo que é fundamental. “Personagens e suas agências compõe minha narrativa, mas inseridas nas estruturas políticas, econômicas e culturais da época.”
Jurandir, estamos na contagem regressiva para os 200 anos da Independência do Brasil, que será celebrado no dia 7 de setembro de 2022. Eu sei que o seu livro Brasil em projetos, depois de passar o período colonial em revista, termina de um ponto de vista cronológico em 1822. Foi simples coincidência ou de fato Brasil em projetos mira interferir nos debates públicos sobre o bicentenário?
Nenhuma coincidência, Flávia. Vimos avançando no debate sobre História Pública no Brasil na última década e, não obstante a pluralidade de perspectivas, há certo consenso no reconhecimento de que nós, historiadores e historiadoras profissionais, com treinamento universitário, temos falhado feio no que tange à comunicação com públicos amplos e variados, para além de nós mesmos. Por volta de 2016, quando do golpe que destituiu a presidente Dilma Rousseff e impôs-se uma outra agenda, derrotada em quatro eleições sucessivas nas urnas, por meio da tal “ponte para o futuro” de Michel Temer, a pauta dos “projetos para o Brasil” se impôs de maneira inevitável. Na mesma época, eu já pensava nas efemérides e como eu poderia melhor contribuir nessa janela que se abriria. Lá atrás eu decidi que, por mais importante que seja avançar na pesquisa acadêmica de ponta, o cenário político do país desde o golpe estava a exigir de nós tentativas mais agressivas de comunicação com o público extra acadêmico. Foi assim que decidi realizar esses dois projetos editoriais: o “Brasil em projetos”, que saiu pela FGV em dezembro de 2020 e o “Almanaque do Brasil nos tempos da independência”, a ser lançado em 2022, pela editora Ática. Hoje vamos falar do primeiro.
Já que você situa o Brasil em projetos como voltado para um público não especializado e que busca participar no debate em aberto sobre os usos políticos do passado às vésperas do bicentenário da Independência, eu te pergunto: com quais obras e autores em especial você busca concorrer na disputa sobre as interpretações da história brasileira?
O tal “grande público”, constituído por pessoas com algum letramento e que se interessam basicamente por leitura, história incluída, é cada vez mais minguante no Brasil, por uma série de fatores, que não vêm ao caso aprofundar aqui. Os números do mercado editorial o atestam. Não obstante, uma fina camada de consumidores de leitura em um país com as dimensões do Brasil representa números significativos. Tão importante quanto, nessa camada se incluem os chamados “formadores de opinião”. Nunca foi tão importante e desafiador que nós, acadêmicos e acadêmicas, ousássemos disputar espaço nesse mercado. De fato, há no Brasil excelentes autores leigos (como se tratam, por exemplo, nos Estados Unidos os lay historians, ou escritores sem treinamento em pesquisa histórica que escrevem sobre temas históricos), que se preocupam com manuseio de fontes, do método crítico, do diálogo com a historiografia em seus livros; como há outros, mais interessados em agitar a audiência e ganhar dinheiro. A rigor, ficarei feliz se “Brasil em projetos” vier a ser considerado uma referência nessa disputa por audiência que se dá pelas réguas do mercado. Pois, embora buscando estabelecer uma comunicação mais direta, por meio de uma escrita mais generosa para com o leitor e a leitora, “Brasil em projetos” não abre mão de princípios básicos do trabalho acadêmico: formulação de problemas, pesquisa com fontes, racionalidade narrativa, debate historiográfico, diálogo entre passado e presente.
A enxurrada diária de informação e a precarização cada vez maior do trabalho parecem contribuir para a transformação da prática da leitura em uma espécie de fast food, onde elementos previamente definidos no cardápio são consumidos voraz e rapidamente pelo consumidor. Nesse contexto, como você enxerga a possibilidade de interferência no debate público de textos que não sejam uma simplificação rápida para um leitor com cada vez menos tempo para a reflexão?
Vejo isso como um enorme e crescente problema. Aqui, não estamos mais falando de questão que possa ser resolvida individualmente, por meio das habilidades de um(a) ou outro(a) escritor(a) de história. O problema está de algum modo enunciado na questão anterior. Entendo que devemos ocupar esse espaço de interação com o público não especializado, atentando para operações de comunicação que nos permitam a aproximação desse público. Por exemplo, aliviando o uso dos códigos cifrados dos infindáveis debates teóricos (e hoje há uma teoria para cada assunto!), das inescrutáveis fórmulas metodológicas, da regurgitação enfadonha da erudição (ou de seus arremedos). Mas precisamos também pensar as razões pelas quais nos cabe disputar esse público. Não pode haver concessões fáceis. É imperativo que, ainda que trabalhando exaustivamente questões como adequação de linguagem, tentemos simultaneamente “subir o sarrafo”, puxar para cima a capacidade crítica do leitor e da leitora, fazer com que ela ou ele saiam de nossa leitura melhores do que entraram. Tentei isso em “Brasil em projetos”.
O título do seu livro remete a projetos que foram propostos, nem sempre com êxito, pela elite governante colonial. Você poderia falar um pouco sobre esses projetos de Brasil?
São tantos e tão ricos. Não dá para aprofundar aqui, mas os projetos em pauta naquele contexto têm a ver como as elites intelectuais, formadas sob os marcos da ilustração portuguesa forjada nas reformas a partir do Marquês de Pombal – sobretudo nos think tanks da época, como a Universidade de Coimbra reformada, o colégio dos Nobres e Academia das Ciências de Lisboa – faziam diagnósticos do que entendiam ser os grandes “problemas brasileiros” e apresentavam propostas de solução para eles. Dentre essas pautas, podemos elencar temas tão variados como a exploração racional do território por meio de expedições “científicas” e a confecção de mapas detalhados da população e das riquezas do país, passando pela gestão de portos, comércio, fiscalidade, até melhoramentos na exploração das minas e na agricultura – que passava, inevitavelmente, pela racionalização da exploração da terra e do trabalho: a questão da administração dos povos originários e, sobretudo, da escravidão, abastecida pelo tráfico intercontinental de almas. Esses debates atravessam todo o livro.
Parece haver um gosto dos brasileiros por representações do passado nacional que enfatizem grandes nomes ao invés de processos históricos, e mais ainda quando são apresentados junto de anedotas e minúcias das vidas privadas dessas grandes figuras. Como você buscou responder a essa demanda dos leitores não especializados?
A constituição de um “panteão nacional”, habitado por grandes homens (sobretudo homens, mas também algumas mulheres), fez parte das estratégias de construção dos Estados-nação no século XIX. Daí o grande prestígio que tiveram, desde aquela época, as biografias dos “vultos nacionais”: reis, rainhas, príncipes, parlamentares, militares e assim por diante. Tenho notado que o gênero biográfico é uma vertente que já vem sendo explorada no contexto mais ampliado das efemérides, há pelo menos uma década. Agora, personalidades femininas, como D. Leopoldina, a Marquesa de Santos ou D. Carlota Joaquina, têm sido mais exploradas. Mas reitera-se o foco em episódios picarescos, como relações conjugais atribuladas, traições, amantes etc., mantendo-se essa historiografia de popularização na verve da linguagem de folhetim. Aí, mulheres são condenadas por sua aparência física, seus traços de personalidade ou por sua conduta, com a condenação sumária das personagens a partir da régua moral conservadora que ainda persiste – não diferente do que fizeram outros autores folhetinescos em outros tempos, como Francisco de Assis Cintra ou João Felício dos Santos. Personagens e suas agências compõem minha narrativa, mas inseridas nas estruturas políticas, econômicas e culturais da época. Isso é particularmente tratado nos capítulos que dedico a D. João VI e a José Bonifácio, nem gênios, nem beócios, nem heróis, nem violões. Apenas homens de seu tempo.
Uma obra de síntese, como Brasil em projetos, é sempre um desafio para aquele que a escreve pois requer grande conhecimento sobre o tema ao mesmo tempo que o conteúdo precisa ser apresentado no menor número de páginas possível. Como você encarou esse desafio?
A pergunta é muito oportuna. Por várias razões, que vão desde o crescimento meteórico da história como especialidade científica ao longo do século XX (e a imposição do gênero monográfico como forma da escrita acadêmica, marcada por alto grau de especialização), até a emergência dos “sujeitos informais” ou “subalternos” na pauta da história social desde a década de 1960 até os debates sobre o caráter da narrativa histórica também desde os anos 1960, a “síntese histórica” foi questionada, a ponto de qualquer tentativa de fazer síntese, mais do que intelectualmente inviável, foi por muitos condenada como algo espúrio – já que qualquer tentativa de síntese, de estabelecer uma “narrativa mestra”, haveria por suposto de “excluir” aqueles grupos subalternos que, com muita luta, se inseriram nas pautas historiográficas.
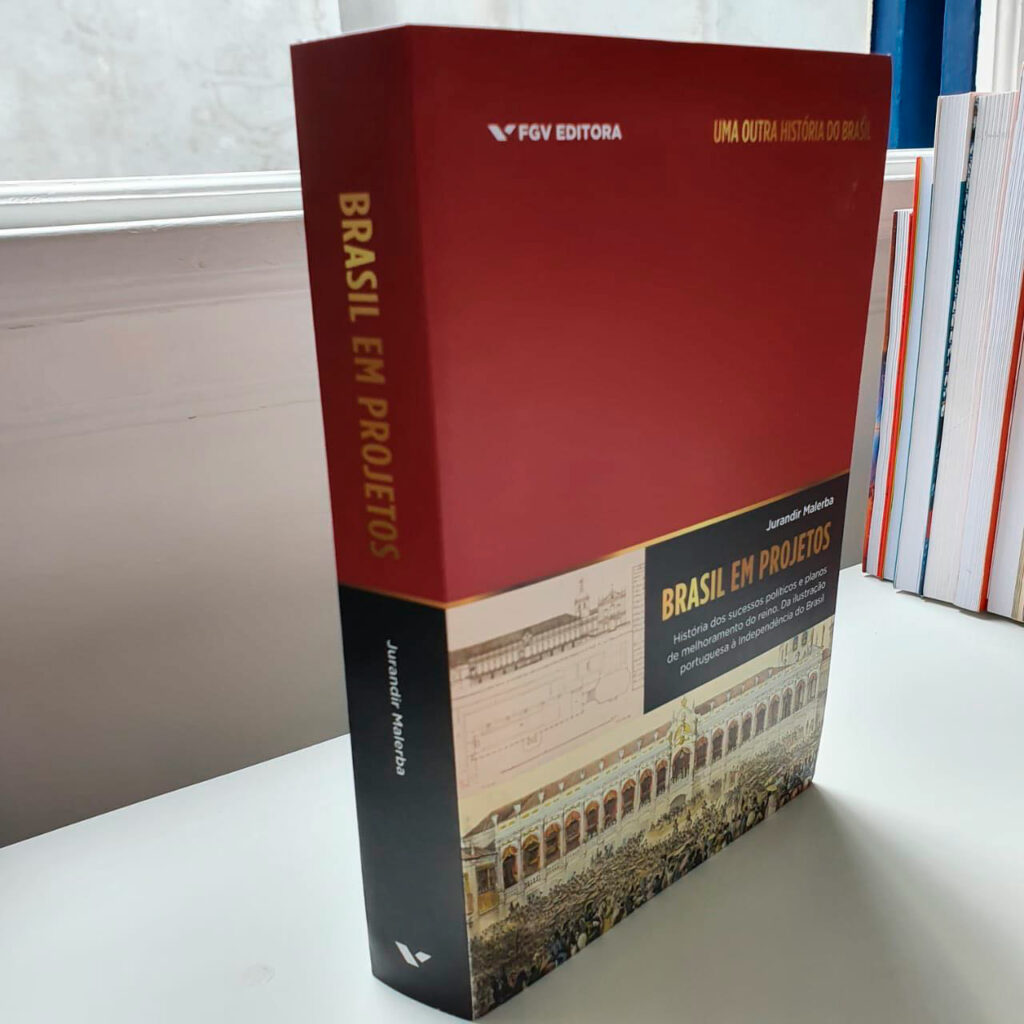
Estudei muito a síntese como gênero histórico e cheguei à conclusão oposta. A operação de síntese é um procedimento cognitivo (assim como a análise), por meio da narrativa, que não apenas está sempre presente em qualquer assertiva ou formato histórico, mas que é mesmo uma ferramenta imprescindível e que a praticamos o tempo todo – mesmo aqueles que a renegam. Mais que isso, como gênero historiográfico, a escrita de história em forma de síntese atende a demandas muito urgentes do debate historiográfico contemporâneo, de disputas violentas de narrativas no jogo político, sob o espectro dos usos e manipulações do passado, da fake history, dos negacionismos históricos – tudo isso sob a luz da história pública. No cenário atual dessas guerras presentes pela história, afirmo que a síntese é uma ferramenta importantíssima na produção de sentidos do passado para não especialistas, o que nos permite ampliar nossa audiência – e nesse aspecto ela se inscreve numa frente das práticas públicas de atuação profissional no campo da história.
Você pontua muito bem que os projetos de Brasil que acabaram tendo algum êxito estiveram ligados aos interesses dos mandatários históricos do país. Contudo, há algumas décadas vêm surgindo no cenário político opções que não estão ligadas exatamente à elite governante tradicional. Essa espécie de quebra de poder, na sua opinião, está abrindo quais projetos de Brasil?
De fato, estudos sobre as populações ditas (mal nomeadas, no meu entender) “subalternas” vêm agregando valorosa contribuição ao conhecimento da história. No caso do livro, estamos falando dos povos originários, das populações africanas e afro-brasileiras escravizadas e das mulheres, sobretudo. Nenhum livro, monográfico ou de síntese, pode pretender falar de “tudo”. Como disse Carlos Drummond de Andrade, só “Stéphane Mallarmé esgotou a taça do incognoscível”. Não se pode conhecer tudo, muito menos falar de tudo, ao mesmo tempo. O que não significa que não seja possível falar do “todo”, da complexidade do ser social no tempo, por meio de qualquer construção narrativa que, necessariamente, vai impor perspectiva e recorte. “Todo” não significa “tudo ao mesmo tempo aqui e agora”, mas uma antecipação teórica que permite, inclusive, estabelecer hierarquias causais e estabelecer recortes. Continuo entendendo, com Walter Benjamim (citado na introdução de “Brasil em projetos”) que os mortos não estarão seguros se o inimigo vencer: “E esse inimigo não tem cessado de vencer. […] todos os que até hoje venceram participam do cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão.”
Não há como falar de resistência fora de um contexto de dominação, de colonizados sem colonizadores, de impérios sem imperadores e sem violência, de subalternos, sem conquistadores. Os subalternos são uma presença viva e constante do livro, mas expostos na perspectiva das elites colonizadoras, senhoriais. Como digo no livro, nomear o inimigo, expor e entender suas estratégias e ações de dominação faz-se assim imperativo e, não menos importante, um modo legítimo de escrever a história “a contrapelo”.
O título da coleção na qual o seu livro foi publicado é Uma nova História do Brasil. Qual a urgência de se escrever uma Nova História do Brasil?
Esse é um projeto editorial da Editora da Fundação Getúlio Vargas. A rigor, sim, a história se reescreve a cada dia. Do ponto de vista mercadológico, contudo, fazia falta um projeto como esse, uma coleção de história do Brasil escrita por reconhecidos especialistas acadêmicos, mas voltada para o grande público. Mais importante, uma coleção que tem por fio condutor os “projetos de Brasil”, conflitantes, lacônicos, interessados, produzidos a cada época. Principalmente num contexto bizarro como o nosso, em que o “projeto” sobre a mesa consiste em não ter projeto, mas sim na destruição do Estado, da seguridade social, dos direitos trabalhistas; um “projeto” calcado na evangelização dos povos indígenas, militarização das escolas, em armar a população, na exploração predatória dos recursos naturais, na busca de controle praticamente inquisitorial dos corpos e da sexualidade das pessoas ou no ataque quixotesco a um insidioso “marxismo cultural”. Como eu digo no fecho do livro, fazer diagnóstico de nossas mazelas e pensar soluções talvez nunca tenha sido tão urgente.
Como citar esta entrevista
MALERBA, Jurandir. “A escrita de história em forma de síntese atende a demandas muito urgentes do debate historiográfico contemporâneo” (Entrevista por Flávia Varella). In: Café História. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/entrevista-com-jurandir-malerba-escrita-da-historia-em-sintese-brasil-em-projetos. Publicado em: 22 nov. 2021. ISSN: 2674-5917.


