Há algumas semanas publicamos, aqui mesmo no Café História, um artigo intitulado “A medicina não é suficiente: por que precisamos das ciências sociais para acabar com essa pandemia”, de Laura Chaparro, no qual a autora mostra como, ao lado de epidemiologistas, matemáticos e cientistas da computação, especialistas das ciências humanas também estão trabalhando duro para melhor compreender o novo coronavírus e impedir que ele se espalhe ainda mais pelo planeta. O artigo obteve milhares de acessos, demonstrando um interesse do público pelas interlocuções da humanidades com áreas como a medicina e, mais particularmente, a saúde pública.
Voltamos ao tema mais uma vez. Agora, contudo, com uma entrevista exclusiva. Cristiane d’Avila, do Departamento de Arquivo e Documentação da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), entrevista Carlos Henrique Paiva e Luiz Antonio Teixeira, professores do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da Casa de Oswaldo Cruz (COC).
Os dois historidadores, do Observatório História e Saúde (OHS) da Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz, criado em parceria da Organização Pan-americana da Saúde (Opas), do Ministério da Saúde (MS) e da Fiocruz, falam sobre o projeto que elaboram para o Observatório Covid-19 (iniciativa da Fundação para o enfrentamento da pandemia), entre outros temas que combinam história e sáude. Confira como foi este papo.
Nesse momento de grave crise sanitária, a Fiocruz organiza esforços para a articulação de conhecimentos e produções técnicas acerca da pandemia de Covid-19. Como o Observatório História e Saúde se articula com essas diferentes frentes?
CH: O Observatório História e Saúde tem como missão institucional a abordagem histórica dos problemas de saúde contemporâneos. Para nós interessa refletir sobre a Covid-19 a partir da incorporação e mobilização de entidades biomédicas e seus aparatos, que são os medicamentos, as tecnologias, os dados e conceitos relativos ao enfrentamento da pandemia. Podemos dizer que a equipe do Observatório se ocupará da relação da pandemia com o sistema de saúde de nosso país e das tensões entre as agendas da biomedicina e da saúde pública.
Vocês estão trabalhando em um projeto específico sobre a pandemia para o Observatório Covid-19 da Fiocruz. Que questões são tratadas e quais contribuições pretendem trazer para o debate sobre essa crise sanitária?
LT: Nosso objetivo com o projeto é analisar, em perspectiva histórica, o processo de desenvolvimento de produtos, conhecimentos e práticas de saúde pública em momentos de crise epidêmica, em especial as controvérsias em torno da incorporação de medicamentos para o controle da Covid-19. Para chegar às questões contemporâneas, que são centrais ao projeto, é necessário compreender dois diferentes aspectos. O primeiro deles diz respeito à substância que estamos estudando, a cloroquina. O segundo, é a trajetória de produtos em processo de aceitação, ou mesmo sem aquiescência científica, na busca de incorporação à saúde pública. A história é prodiga de casos assim.
Podem contar essa história?
LT: Vamos começar com a cloroquina. O medicamento é uma versão sintética do quinino, substância retirada de uma planta comum nos Andes, chamada Chinchona, que foi muito usada como antipirético pela medicina local e posteriormente pelos colonizadores. No século XX, o quinino se transformaria na principal arma no controle da malária em regiões de fronteira florestais. A partir dos anos 1920, foram desenvolvidos os similares sintéticos do quinino: a cloroquina e a hidroxocloroquina, que passaram a ser utilizadas largamente no país para o controle da malária, e também para amebíases e doenças autoimunes.

Nos anos 1950, a cloroquina foi utilizada em um projeto governamental na região amazônica, no qual era misturada ao sal de cozinha e entregue às populações ribeirinhas, para substituir o sal, com o objetivo de proteger contra a malária. Arrisco dizer que a cloroquina se transformou em uma panaceia, pois foi testada inclusive no tratamento da infecção por zika vírus, para proteger os fetos da microcefalia e outros danos cerebrais causados pelo vírus. A tentativa da utilização do produto no controle da Covid-19 revela, assim, a continuidade de uma trajetória longa que pretendemos aprofundar.
Existem casos similares? Qual o outro caso?
LT: Sim. O mais recente foi o da fosfoetanolamina, produto não ratificado por nenhuma instância científica, mas que recebeu aval para a sua produção e distribuição a doentes de câncer, a partir de ação judicial e posteriormente de uma lei votada no Congresso. Lei essa que teve seu efeito suspenso pelo Superior Tribunal Federal em outubro de 2016. A tramitação regular para um processo dessa natureza normalmente se relaciona à mediação da Anvisa e da Conitec, instituições federais com larga experiência na utilização de instrumentos científicos, econômicos jurídicos e de aceitação pública que garantem o consenso em relação a esses produtos.
O que aproxima estes dois casos?
LT: O contexto de crise institucional que envolveu ambos. No caso da fosfoetanolamina, o processo de tensão entre o legislativo e o executivo que culminou com a queda da presidente Dilma Rousseff; no segundo, da cloroquina, a crise política, social e econômica relacionada à epidemia. Em ambos os casos se observam elementos que parecem apontar para o descrédito da ciência e para o negacionismo. No caso da fosfoetanolamina, assim como no da cloroquina, as formalidades institucionais foram atropeladas, gerando intermináveis controvérsias. Nosso estudo buscará compreender esse processo, em relação à cloroquina na epidemia de Covid-19.
Nesse contexto de epidemia de Covid-19, portanto, como o OHS avalia o processo de normatização de medicamentos como a cloroquina?
LT: Historicamente, a necessidade de padronização de práticas, instrumentos e nomenclaturas para a saúde se confunde com o desenvolvimento da medicina hospitalar, ocorrido no século XIX. Nesse período, a ‘burocratização’ da prática médica em torno de protocolos que normalizam conhecimentos e ações tornou-se uma necessidade para uma medicina que deveria conhecer as diferenças entre os agravos e tratar de forma uniforme um grande contingente de doentes.
Dos prontuários aos laudos, das vestimentas à indicação de medicamentos, da organização espacial aos instrumentos, tudo deveria ser racionalizado e organizado para maior eficiência. No século XX o desenvolvimento da pesquisa clínica cada vez mais reforçou a normatização da terapêutica, relacionando a especificidade da doença à especificidade do tratamento. Tal processo engendrou novas formas de criação de verdades em medicina, em que a eficácia de um tratamento passou a se vincular à possibilidade de testagem de produtos e procedimentos, reiterada pelo uso de métodos estatísticos.
Os avanços da epidemiologia, a partir de meados do século XX, reforçaram essa tendência, possibilitando o estabelecimento de ensaios clínicos controlados para a avaliação de medicamentos. No final do século XX, os testes clínicos se transformaram no padrão ouro da medicina, no entanto, sua produção e utilização, por seu caráter coletivo e institucional seguem rígidas regras – bases de uma noção de objetividade científica – que implicam em temporalidades, condutas e expectativas específicas.
No atual contexto epidêmico, o que pode acontecer em processos de inovação e normatização de medicamentos?
LT: Passam a ser tensionados. A produção de um medicamento, ou sua utilização para uma finalidade diferente à qual foi originalmente concebido, demanda diferentes tipos de testes, a elaboração de protocolos específicos para seu consumo e o treinamento de recursos humanos para a sua utilização. No âmbito do SUS, a escolha e normatização dos medicamentos a serem ofertados à população – o que chamamos de assistência farmacêutica – tem como base os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).
Tais instrumentos são elaborados a partir de evidências científicas e dispõem sobre as diferentes áreas da prática clínica – em especial as relacionadas a maiores custos. São produzidos por grupos técnicos de trabalho, revistos por consultores especialistas e submetidos a consulta pública. Tais protocolos devem presidir à prática médica e, em especial, a prescrição e a dispensação no âmbito do SUS.
Para que a produção desses instrumentos, assim como de outros processos de integração de inovações na saúde pública, transcorra a contento são necessários fatores como tempo, recursos, instrumentos. Utilizados cotidianamente no “mundo medicalizado”, tais fatores deixam de existir ou se tornam raros, na medida em que são demandados em momentos de crise. Como resultado, vemos uma desenfreada busca por novos medicamentos e protocolos para sua utilização, sem os devidos protocolos institucionais ratificados cientificamente.
Nesse sentido, que papel se espera da história e dos historiadores numa frente de trabalho sobre a Covid-19?
CH: Todos que se debruçam, neste momento, sobre os imensos desafios impostos pela pandemia de Covid-19 no Brasil poderão se beneficiar da grande angular oferecida pelos historiadores, não só do Observatório, é claro. Hoje, inúmeros colegas, a partir de diferentes lugares institucionais, estão produzindo análises bastante importantes para melhor compreendermos o processo pelo qual estamos passando. O que nos parece claro, neste momento, é que há um lugar razoavelmente privilegiado para as análises em perspectiva histórica. Tal lugar vem de uma trajetória de crescente destaque para o papel dos historiadores nas análises do campo da saúde.
É preciso observar, por exemplo, que temos periódicos científicos importantes na área que mantêm espaço permanente para reflexões de cunho histórico. O mesmo pode se dizer a respeito do Ministério da Saúde e mesmo de organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-americana de Saúde ou a Fundação Rockefeller. A presença da abordagem histórica em diferentes produções dessas instituições revela que o nosso campo é compreendido como elemento constitutivo das análises acerca das políticas de saúde em nossos dias.
No desenrolar da pandemia, vimos que muitas informações e diretrizes científicas foram se alterando ou sendo alvo de diferentes questionamentos. Pesquisas no âmbito das ciências humanas e sociais podem ajudar na compreensão desse problema?
LT: Sem dúvida. O campo da História e dos Estudos Sociais das Ciências e das técnicas nos dão ferramentas potentes para discutir essas questões. Buscar entender seu contexto, suas configurações de mais longo prazo e as relações políticas envolvidas nesse processo permite analisá-lo de forma muito mais rica e relacionar diversos de seus aspectos a problemas mais gerais da sociedade brasileira.
Por exemplo, nessa pandemia salta aos olhos as mudanças de diretrizes sobre as formas de prevenção. Inicialmente, o uso de máscaras foi contraindicado aos não profissionais de saúde. Posteriormente, passou a ser indicado como uma das principais formas de se evitar o contágio. Já o relaxamento do distanciamento social e o uso em massa de testagem são alvos de fortes negociações entre diversos grupos em seu processo de transformação em diretrizes científicas.
Mudanças de diretriz podem dar margem a muitas controvérsias…
LT: Sim. No âmbito dos chamados Estudos Sociais das Ciências há pesquisas conhecidas como estudos de controvérsias. Segundo os estudiosos desses campos, os momentos de controvérsia sobre determinados temas científicos são valiosos porque dão margem à análise de diferentes aspectos, que se tornarão verdades científicas ou artefatos técnicos quando ainda estão em produção. Ou seja, quando vários grupos e processos ainda estão influenciando sua transformação em resultados estabelecidos. Estudar essas controvérsias não busca inventariar erros e acertos, ou imputar descrédito, ou glorificar a ciência. Pelo contrário, analisar o desenvolvimento de conhecimentos e práticas contra a doença com base nos diversos interesses em jogo é uma forma de ampliar a compreensão de um problema e do contexto que o cerca.
Em recente entrevista, Carlos Henrique, você afirmou que a maneira como os números se expressam pode esconder a dimensão política da epidemia. Isso significa que esses números podem não revelar informações como, por exemplo, o fato de o novo coronarívus matar mais negros e pobres, ou pessoas com comorbidades até então pré-existentes, mas desconhecidas?
CH: Veja, nesse momento somos inundados por dados epidemiológicos acerca da situação brasileira diante da Covid-19. Esses dados, de infectados, de óbitos, dão uma boa medida da situação geral na qual nos encontramos, mas, em seu estado bruto, escondem especificidades que dizem respeito à forma como o vírus produz e expressa realidades coletivas muito distintas no país. Os dados apresentados pelo Boletim Epidemiológico da Prefeitura de São Paulo, do dia 30 de abril, constituem um bom exemplo desse problema.
Eles apontam que o risco de morte de negros por Covid-19 é 62% maior em relação aos brancos. Não há, até onde sabemos, qualquer parâmetro de ordem fisiológica ou biológica que determine esse quadro. Ou seja, não há qualquer evidência, até hoje, que sustente um comportamento do vírus distinto e mais agressivo nos organismos de pessoas negras.
Tudo indica que as questões socioeconômicas, mais uma vez, são as definidoras de um quadro sanitário mais tormentoso para a população negra. Estamos falando da ausência de saneamento básico, da insegurança alimentar, da existência de comorbidades – muitas das quais desconhecidas – e também de dificuldade de acesso aos serviços de saúde por parte dessa população. Esse conjunto de problemas, ao que tudo indica, explica o aumento do risco de adoecer e morrer não só de Covid-19, mas de boa parte das doenças que acometem a gente brasileira.
No projeto do OHS vocês avaliam que um cenário de emergência com tais dimensões impõe muitas demandas e soluções para o seu enfrentamento. O que se pode dizer sobre a formação profissional e a gestão do trabalho em saúde nesse contexto?
CH: Esse é um campo em que podemos perceber a dimensão histórica com muita pertinência. Quero dizer que, em minha perspectiva, a pandemia dá realce a problemas crônicos do nosso sistema de saúde, inclusive e especialmente no que se refere ao chamado campo de recursos humanos. Estou falando de agendas, demandas e questões institucionais do RH que, de alguma forma, se replicam no tempo.
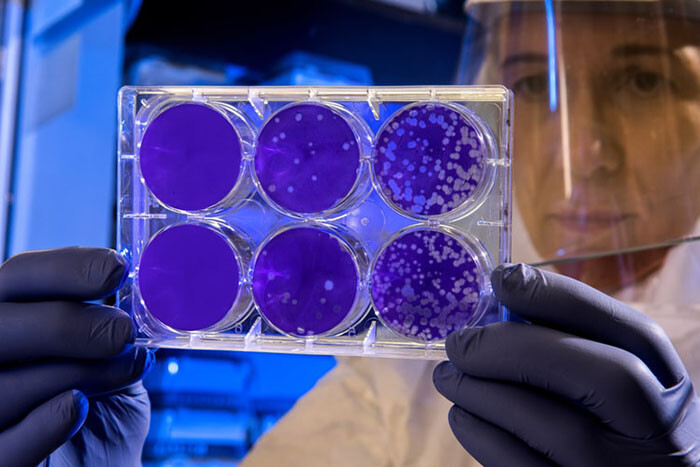
Vejamos um exemplo: em 1976, em uma iniciativa conjunta do governo brasileiro e da Organização Pan-americana da Saúde, a Opas, se instituiu o Programa de Preparação Estratégica de Pessoal de Saúde, o Ppreps. Vamos dizer que ele representou, pela primeira vez, uma política para os recursos humanos em saúde de caráter verdadeiramente nacional. Questões como a ampliação da formação de profissionais de nível superior e técnico estavam lá colocadas. Mas não só isso: a necessidade de fixação de médicos nas regiões mais distantes dos grandes centros do centro-sul do país também. Registramos avanços de lá pra cá, mas estamos ainda muito aquém das necessidades.
O que não deu certo?
CH: Estruturalmente, podemos dizer que não criamos condições políticas e institucionais para o seu real enfrentamento. Estamos falando, entre outras coisas, de um papel mais vigoroso por parte do Estado brasileiro na regulação das profissões de saúde, sobretudo da profissão médica. O padrão de formação de especialistas, por exemplo, ainda passa pela decisiva atuação das associações profissionais. Ora, não conhecemos nenhum sistema de saúde universal em operação na Europa, sobretudo aqueles mais modelares, que não contem com uma forte regulação da profissão por parte do Estado.
A ideia, de matriz liberal, que considera que cabe à profissão se autorregular, tem relação direta com as distorções na distribuição de médicos e, sobretudo, nas dificuldades relativas à formação de especialistas de acordo com as necessidades do sistema de saúde. Veja bem, a pandemia está, mais uma vez, mostrando isso ao demandar profissionais de nível superior para a operação de unidades de cuidados intensivos no norte e em algumas regiões do nordeste do país.
O que ocorre?
CH: Devo dizer que há uma série de interesses e disjunções institucionais que são compreensíveis em um determinado processo histórico. Não se altera essa realidade sem se enfrentar, com vigor, as condições históricas que as definem. Ou seja, o enfrentamento das questões mais estruturantes do campo de RH em saúde, em alguma medida, envolve uma luta contra um passado que se faz, a todo momento, presente. Ao que parece, temos dificuldades que se apresentam como instransponíveis para a oferta, a distribuição e a fixação de profissionais de saúde no país. Não é um problema novo, como estou dizendo, mas ganha certamente ares dramáticos num contexto de urgência sanitária.
A Atenção Primária em Saúde, se fortalecida com equipes de Estratégia Saúde da Família acompanhando os casos e encaminhando as pessoas para os lugares certos, atenuaria a gravidade desse cenário?
CH: Em parte. Já sabemos que onde há boa cobertura das equipes de saúde da APS há melhores indicadores de saúde, se comparado às regiões desprovidas de cobertura. A oferta de cuidados profissionais, mas também o vínculo com a comunidade, a existência de ações de educação e promoção da saúde, com todas as dificuldades que conhecemos, constituem-se como importantes estratégias para o enfrentamento das diferentes situações sanitárias a que estão submetidas as comunidades pobres e não pobres. No entanto, precisamos reconhecer, há limites para a efetividade da política. Os limites da APS dizem respeito à natureza intersetorial dos assuntos da saúde: da questão habitacional, do trabalho, da segurança pública e outras. Dito claramente: a APS representa ganhos à saúde das comunidades, mas não resolve todos os problemas.
Para finalizar, gostaria de levantar uma questão que me parece de fundo. A Covid-19 vem revelando que as medidas neoliberais, adotadas ao longo das últimas décadas no mundo, reduziram a capacidade de vigilância, contenção e mitigação de epidemias. Esse modelo fez-se de escolhas políticas que acentuaram a desigualdade econômica, a precariedade do trabalho e o enfraquecimento de serviços públicos de assistência e a seguridade. Foi baseado no crescimento ininterrupto, no consumo, no desperdício e na destruição da biodiversidade. Tal modelo colocou uma parte significativa da população em situação de vulnerabilidade à doença e incapaz de lidar com as suas consequências. Nesse contexto, podemos dizer que a pandemia é fruto do capitalismo neoliberal?
CH: De fato, podemos considerar que a partir dos anos 1970 o consenso político que deu base à modelagem do estado de bem-estar social começa a dar sinais claros de erosão. Estou falando daquele contexto que fez emergir um conceito de seguridade social e, a ele ligado, a existência de serviços universais de saúde, que tanto permitiram a construção de potentes instituições de saúde no Velho Continente, com tudo a que se tem direito: oferta de assistência médica; regulação estatal de produtos, insumos e profissões de saúde; vigilância epidemiológica e sanitária; políticas e programas calcados nas ideias de prevenção e promoção e por ai vai.
As bases desse empreendimento todo parecem entrar em uma espécie de fase terminal, pelo menos tal como elas se definiram até os anos 1970. A emergência gradual, mas vigorosa, de uma nova ordem internacional liberal na década seguinte não deixava dúvidas: se estabeleciam inéditas dificuldades para a condução desse conjunto de coisas, o que chamei aqui de empreendimento do estado de bem-estar social. Não é que tudo vá ao chão, mas certamente muitas iniciativas e políticas passarão a ser informadas pelo novo contexto e passarão eventualmente por mudanças de rotas que, em alguns casos, não serão nada desprezíveis.
Exemplo é a verdadeira disputa que irá se travar em torno do conceito de Atenção Primária à Saúde. O seu sentido mais abrangente, defendido pela Organização Mundial da Saúde em Alma-Ata, em 1978, será obstaculizado pela noção de “seletividade”, que retirava a potência, vamos chamar assim, mais estruturante da APS em seu sentido original.
Uma concepção afinada com noções de direito à saúde, de estado atuante, de mudanças mais gerais para o enfrentamento de diversos quadros sanitários vai cedendo lugar para uma concepção mais seletiva, com foco em indicadores de saúde específicos e sempre vinculados à pobreza, como são os casos da mortalidade infantil e da mortalidade materno-infantil.

Em resumo, a ideia de que caberia a um Estado atuante e forte na promoção da saúde e de melhores condições de vida das populações já não apresentava o consenso mínimo para sua vigência, sem que enfrentasse disputas e contradições. Esse contexto internacional, de crescente hegemonia liberal irá, é lógico, produzir consequências de diferentes alcances e implicações nos diversos cenários nacionais.
No cenário europeu, de uma maneira geral, representará um crescente esvaziamento da autoridade estatal na gestão de políticas de saúde. Os arranjos institucionais que dão conta desse esvaziamento podem ter diversos desenhos jurídicos, mas podem ser resumidos por uma crescente participação da iniciativa privada na oferta de serviços e produtos de interesse público. Parcerias público-privada na saúde emergirão, sob diferentes marcos regulatórios.
Seja como for, estamos diante de um cenário ideológico, político e institucional que aponta em direção à desregulação estatal e para o fortalecimento dos interesses de mercado. A vigência de tal orientação em sociedades que foram capazes de criar arcabouços institucionais vigorosos e afinados com a ideia de estado de bem-estar social é uma coisa, e para aquelas sociedades em que este arcabouço jamais se instituiu? Ainda que por diferentes razões, esse é o caso dos Estados Unidos da América e de diferentes nações latino-americanas, inclusive o Brasil.
Para não me alongar muito: a resposta para sua pergunta é sim. Mas cabe uma ressalva: é preciso olhar para as peculiaridades nacionais. Nós, por exemplo, fomos capazes de construir o SUS, um empreendimento afinado com o estado de bem-estar social, em plena vigência do ideário neoliberal. Naturalmente, isso produziu uma série de consequências estruturais para o que fomos capazes de fazer.
Como citar esta entrevista
PAIVA, Carlos Henrique; TEIXEIRA, Luiz Antonio. O uso da perspectiva histórica para analisar momentos de pandemia, segundo esses historiadores (Entrevista por Cristiane d’Avila). In: Café História. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/historia-saude-publica-pandemia/. Publicado em: 06 jul. 2020. ISSN: 2674-5917. Acesso: [informar a data].

