Em 20 de janeiro de 2025, Donald Trump reassumiu a presidência dos Estados Unidos. A cerimônia ocorreu no Capitólio, em uma sala repleta de referências históricas. Nesse cenário monumental, Trump fez seu discurso de posse, reafirmando a promessa de “tornar a América grande novamente”.
Diferente de outros presidentes que usaram esse imaginário para pregar união, Trump adotou um tom beligerante, sugerindo uma forte oposição entre “nós” e “eles”. Deixou claro que os Estados Unidos estão passando por um declínio, causado pela incompetência de elites políticas alinhadas ao multiculturalismo dos movimentos sociais.
“Nós” vs. “eles”
Sabemos que o “nós” nos discursos de Trump são os seus eleitores, quase sempre homens brancos, empresários, especialmente do ramo da tecnologia, e outros grupos de privilegiados da sociedade norte-americana, embora nem sempre bem-sucedidos. Mas quem são o “eles”. Trump não foi claro. Mas podemos deduzir quem são olhando para nosso contexto atual e para declarações feitas durante a campanha presidencial. Esse “eles” é formado por três grandes grupos: políticos tradicionais, a esquerda woke e imigrantes ilegais.
Para Trump, os políticos tradicionais são as elites do establishment, frequentemente acusadas de viver às custas da nação. Incompetentes e corruptas, essas elites teriam causado sérios danos à reputação internacional do país, permitindo que outras nações tirassem vantagem em acordos comerciais e diplomáticos. Também teriam facilitado o controle das instituições educacionais e midiáticas pela esquerda woke, termo pejorativo usado para descrever os defensores de causas progressistas. Quanto aos imigrantes, muitos deles seriam elementos perigosos, oriundos de “prisões” e “institutos psiquiátricos”.
O “eles” não é um adversário comum. Não se pode dialogar com esse adversário, porque é uma ameaça existencial à nação. Esse “Outro” – como dizem os antropólogos que analisam esse tipo de antagonismo – estaria empenhado em corromper os fundamentos morais e ideológicos da ordem social. Mas nem tudo está perdido, pois o “nós” – Trump e seus apoiadores – representam um antídoto. São os virtuosos e os puros. Eles representariam a “verdadeira” nação.
Como se pode ver, Trump trabalha com um discurso do medo. Ele demoniza três grandes grupos que fazem parte da sociedade americana, para depois propor um pacto: em troca de apoio, ele se compromete a reafirmar os Estados Unidos como a maior superpotência mundial, revertendo o suposto declínio atribuído aos seus antecessores.
Como fazer isso? Sua estratégia é “colocar a América em primeiro lugar”. E para isso é preciso fechar as fronteiras, aumentar a repressão policial, as deportações em massa, impor tarifas comerciais protecionistas e abandar de políticas de inclusão. Trump também prometeu acabar com a “politização” do sistema judiciário, que, segundo ele, teria sido usado pelas elites progressistas para barrar seu retorno à presidência.
Desprezo pela noção liberal de unidade nacional
Ao priorizar os interesses nacionais e eliminar a influência daqueles três grupos, Trump se apresenta como “unificador” e “pacificador” da Nação. Sua promessa é a de construir uma sociedade meritocrática, que “não enxerga cor”. No entanto, o constante uso de antagonismos sugere o oposto: Trump vê sim cores, e hierarquiza essas cores.
Essa contradição destaca uma particularidade de sua retórica em relação a outros presidentes, explicando parte de seu apelo para a extrema-direita. Publicamente, líderes norte-americanos evitam fazer juízo moral de seus adversários. Quando Nixon enfrentou Kennedy em uma das eleições mais acirradas da história, o candidato republicano frisou que suas divergências em relação ao oponente eram de natureza estratégica, e não pessoais. Em 2008, John McCain, outro republicano, interrompeu a fala de uma apoiadora para refutar mentiras sobre Obama, defendendo a integridade e patriotismo de seu oponente.
Mais do que mera questão de decoro, essas ações refletem uma tradição democrática liberal que valoriza o debate racional, evitando paixões extremas que possam desestabilizar o sistema político. Assim, por meio de debates, juramentos e transferências pacíficas de poder, as instituições americanas seriam preservadas. Além disso, a ideia de que uma “nação dividida” não pode sobreviver ao teste do tempo é um tema recorrente na história estadunidense, destacando-se em acontecimentos marcantes como a Guerra da Secessão (1861-1865), durante a qual Abraham Lincoln fez um de seus pronunciamentos mais famosos, clamando pela preservação da unidade nacional.
Durante a cerimônia de posse, Biden permaneceu sentado ao longo de todo o evento, respeitando a tradição, mesmo quando Trump, a poucos passos de distância, insistia em criticar sua gestão como inepta e incompetente. Esse contraste evidencia o desprezo de Trump pela noção liberal de unidade nacional, o que, sob a perspectiva da extrema-direita, apenas reforça a ideia positiva de que ele seria um candidato antiestablishment, estando acima do sistema. Portanto, o conceito de “unidade” segundo Trump é autoritário e hierárquico, endossando discursos declaradamente antidemocráticos.
Passados idealizados, futuros incertos
Já foi dito aqui que a sala em que Trump fez seu discurso, a rotunda do Capitólio, é ornada com obras de arte imponentes, expondo acontecimentos e personagens que marcaram a história dos Estados Unidos. Essas representações mobilizam uma série de símbolos associados à identidade nacional, apresentando uma versão idealizada do passado. Com seus heróis nacionais e mitos fundadores, essa forma de enxergar o passado cumpre uma função social importante, na medida em que, atuando como ideologia, reforça um senso de união e coesão entre os integrantes de uma sociedade.
No caso dos Estados Unidos, essa narrativa da nação se destaca por seu alto nível de penetração no imaginário popular, sendo frequentemente utilizada por líderes políticos para mobilizar setores distintos da população. Nesse sentido, Donald Trump não é exceção. Em seu discurso, ele fez referências a pelo menos dois elementos básicos da narrativa histórica da nação estadunidense.
O primeiro é ideia de excepcionalismo norte-americano. As origens dessa ideia remontam ao século XVII. John Winthrop, líder puritano da época, acreditava que os colonos tinham o propósito divino de construir uma sociedade exemplar, baseada em princípios cristãos. Essa nova sociedade, inspirada na imagem bíblica de “uma cidade sobre a colina”, deveria, segundo ele, servir de modelo moral e espiritual para o resto do mundo.
No século XVIII, durante a Revolução Americana (1776-1783), a elite ilustrada dos founding fathers (pais fundadores) adotou a imagem utópica esboçada por Winthrop como base para um mito fundador, postulando que os norte-americanos que ali nasciam seriam um povo eleito, com uma missão histórica a cumprir. No discurso de posse de Trump, essa noção é citada quando ele promete fazer dos Estados Unidos “maior, mais forte e bem mais excepcional do que jamais foi”, afirmando ainda que “nós seremos uma nação como nenhuma outra, cheia de compaixão, coragem e excepcionalismo”.
O segundo elemento da narrativa da nação é a ideia de destino manifesto, que aparece pela primeira vez em um texto de 1845. Inspirada em outras ideias populares da época, essa doutrina pregava que os Estados Unidos possuíam o direito divino de se expandir pelo continente americano e outras regiões do mundo, propagando seus valores e instituições entre povos “atrasados”. Essa ideia foi complementada pelo chamado mito da fronteira, segundo o qual a “essência” do norte-americano seria forjada durante o processo de expansão.
Nesse âmbito, conforme os pioneiros estadunidenses se aventuravam pelo desconhecido, ampliando sua presença sobre o território inóspito e selvagem (a fronteira), um novo tipo de homem seria moldado. De caráter prático, criativo e determinado, esse homem seria a personificação da liberdade e da iniciativa privada.
Tanto o destino manifesto como o mito da fronteira foram amplamente utilizados durante o século XIX para justificar a expansão para o oeste, além da política imperialista. Atualmente, para indignação dos conservadores, esses e outros elementos da narrativa da nação são frequentemente questionados devido ao seu uso para justificar guerras e massacres contra populações vulneráveis.

No entanto, no discurso de Trump, os conceitos são preservados em seu sentido tradicional e idealizado. Ele afirma que, sob sua liderança, os Estados Unidos voltariam a ser uma nação em “crescimento”, cumprindo seu “destino manifesto” na conquista do espaço.
Os norte-americanos ainda seriam, por natureza, construtores, empresários e pioneiros, guiados pelo “espírito da fronteira” inscrito em seus corações, que os convoca para a “próxima grande aventura”. Esse espírito explicaria, segundo Trump, como seus ancestrais transformaram colônias humildes na república mais poderosa, formada pelos “cidadãos mais extraordinários do planeta”.
Trump ainda recorreu a mais uma estratégia comum na retórica extremista conservadora. Isto é, a ideia de que a sociedade atual vive uma decadência moral e espiritual, causada pela influência do “globalismo” e do cosmopolitismo liberal, exigindo, em resposta, o resgate de um passado mítico, onde a lei e a ordem reinavam soberanas.
Essa argumentação, cujas raízes remontam às ideologias da decadência que alimentaram o fascismo no início do século XX, tem o amplo apoio de grupos supremacistas ressentidos com a perda de seus privilégios. Para estes, a ampliação dos direitos de minorias gerou a subversão das hierarquias tradicionais de gênero, cor e sexualidade.
Antes, por mais que o indivíduo fosse pobre, ele se consolava com que ainda possuía vantagens em relação a grupos “inferiores”, sobre os quais ele mantinha poder. Agora, com a perda de status, prevalece o sentimento de impotência, alimentando o ódio e a intolerância. Com efeito, alimenta-se a fé em uma liderança carismática e máscula, capaz de fazer o que outras teriam sido incapazes ou indispostas a fazer, tomando decisões drásticas em favor do “homem comum”.
A questão racial
Quanto à questão racial, essa inversão de papéis estaria ligada a um processo chamado de “great replacement” (grande substituição). De acordo com essa teoria conspiratória, uma elite intelectual e política, atuando secretamente nos mercados financeiros e nos parlamentos, estaria substituindo a população branca por grupos de outras “raças”, resultando no que alguns chamam de “genocídio branco”.
De modo geral, trata-se de uma versão atualizada de uma teoria antissemita do final do século XIX, posteriormente utilizada pelos nazistas para justificar o Holocausto. Disseminada amplamente nas redes sociais, a teoria tem o apoio de figuras proeminentes da extrema-direita, muitas das quais associadas à campanha e à gestão de Donald Trump.
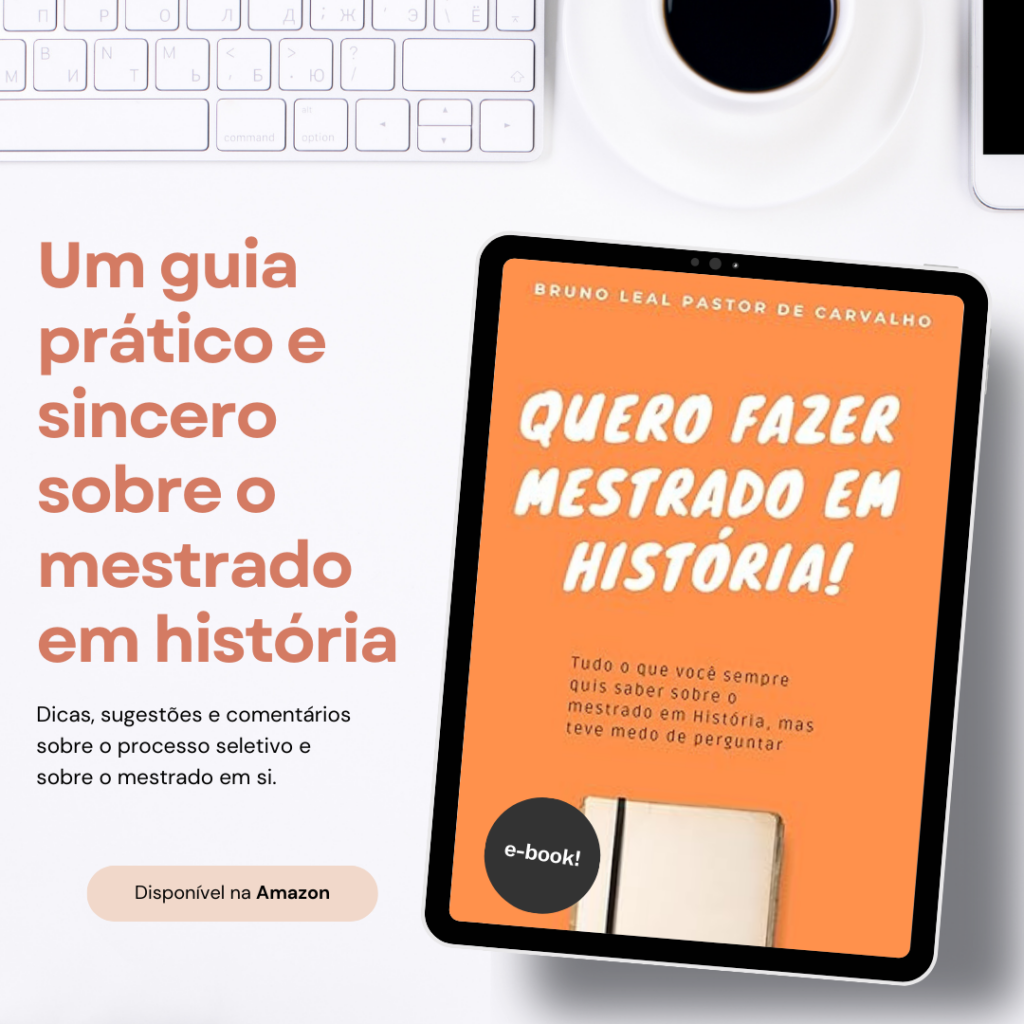
O livro do historiador Bruno Leal, professor da Universidade de Brasília e criador do Café História, é um dos mais vendidos nas categorias “Ensino e Estudo” e “Historiografia” da Amazon. O livro está disponível para leitura no computador, no celular, no tablet ou no Kindle. Mais de 80 avaliações positivas de leitores. Confira aqui.
Assim, ao promover maior repressão policial e planejar deportações em massa, medidas que afetam desproporcionalmente as populações negra e latina, Trump estaria, sob o pretexto de combater o crime e a imigração ilegal, agindo para reverter o chamado “genocídio branco”. Além disso, ao declarar que o reconhecimento de apenas dois gêneros – “macho” e “fêmea” – seria uma política oficial do governo, ele reafirma seu desejo de restaurar o modelo tradicional de família patriarcal, onde o homem podia tudo.
Para muitos estudiosos, os itens abordados aqui – o antagonismo elevado ao plano existencial, o resgate de um passado mítico glorioso, a descredibilização dos ritos democráticos, a manipulação dos ressentimentos coletivos e a fé na liderança carismática – são traços do fascismo, sendo este entendido não como período histórico específico, mas um sistema de crenças políticas e culturais, baseado no antiliberalismo e irracionalismo.
Trump já anunciou a revogação de acordos climáticos, a saída dos Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, o fim de programas de inclusão, a tentativa de abolir a cidadania por nascimento e o perdão aos envolvidos na insurreição de 6 de janeiro de 2020. Para milhares de pessoas já impactadas por essas medidas, o futuro parece mais incerto e sombrio do que nunca, o que reforça a importância de superar preconcepções caricatas sobre o fascismo, muitas vezes moldadas pelo cinema e pela cultura pop, como se sua adesão dependesse exclusivamente do uso ostentativo de suásticas.
Referências
JUNQUEIRA, Marry Anne. Estados Unidos: Estado Nacional e Narrativa da Nação (1776-1900). São Paulo: Editora Edusp, 2018.
RICOEUR, Paul. Hermenêutica e ideologias. Petrópolis: Vozes, 2023.
STANLEY, Jason. Como funciona o fascismo: a política do “Nós” e “eles”. Porto Alegre: L&PM, 2020.
UNITED STATES. The inaugural address. Disponível em: https://www.whitehouse.gov/remarks/2025/01/the-inaugural-address/. Acesso em: 23 jan. 2025.
Como citar este artigo
JOTA, Filipe Dantas de Oliveira. Nostalgia dourada: os usos do passado na retórica de Trump e por que isso encanta a extrema-direita. (Artigo). In: Café História. Disponível em: https://www/cafehistoria.com.br/nostalgia-dourada-usos-do-passado-trump/. Publicado em: 10 fev. 2025. ISSN: 2674-5917.


