Ao contrário do que muitos possam pensar, a representação do personagem homossexual no cinema não aconteceu tardiamente em termos absolutos. Ela existe desde o início. Literalmente: em 1895, Thomas Edison já rodara um filme experimental, “The Gay Brothers”, em que 2 homens dançavam ao som de um violinista. O primeiro beijo entre dois homens foi registrado no filme “Wings”, de 1927, o primeiro vencedor na história de um Oscar de Melhor Filme. Antes disso, insinuações de situações de temática gay já podiam ser encontradas em filmes de Chaplin (Behind the Screen, 1916) ou em alguns curtas de O Gordo e o Magro. Após, até em musicais, como em “A Alegre Divorciada” (1934), estrelado por Fred Astaire e Ginger Rogers.
De uma forma geral, porém, o registro dominante era somente um: se um homem tivesse trejeitos femininos ou se ele ousasse vestir-se de mulher, o único efeito que se poderia esperar era o da comédia. O homossexual pressupunha e representava alívio dramático e nada além.
Ainda assim, havia espaço para algumas notáveis exceções, como a famosa cena de “Marrocos” (1930) em que a cantora personagem de Marlene Dietrich aparece em um smoking, elegante e sem jamais perder o efeito de femme fatale, e num movimento inesperado beija suavemente uma das mulheres na plateia, num ato claramente provocante para homens e mulheres nas poltronas dos cinemas.

A liberdade artística de que o cinema se aproveitou nas suas primeiras décadas de existência, porém, seria logo cerceada nos EUA, que nos anos 1940 já era a maior potência mundial na exportação de filmes. O Código de Hays, um documento que listava o que o bom costume e a família não deveriam assistir nas telas, não teve um início particularmente forte: foi adotado pela MPAA (Motion Picture Association of America) em 1930, mas somente a partir de 1934 foi aplicado severamente.
Com a adesão da Igreja Católica, que também criara um código para os seus seguidores e, no final dos anos 1930, já ameaçava estimular boicotes a filmes, os produtores de Hollywood, prevendo terríveis prejuízos, passaram a adaptar seus filmes a essas regras, que foram, também, um dos alicerces de censura midiática do Macarthismo.
O Código de Hays condenava nos filmes situações que envolvessem beijos de língua, cenas de sexo, sedução, estupro, aborto, prostituição, escravidão (de brancos), nudez, aborto, obscenidade e profanação. O termo homossexual, ainda que não citado, provavelmente se encaixava nesta última proibição. E, como se pode notar, a violência não era censurada em suas diversas encarnações possíveis.
O código foi seguido fielmente pela grande maioria dos filmes produzidos em Hollywood até 1968, quando a MPAA criou o seu novo termo de conduta e censura, com bases muito similares ao anterior, e usado até hoje. Filmes que envolvem situações sexuais ainda são mais censurados do que filmes ultra violentos e aqueles que envolvem relacionamentos homossexuais certamente um tanto mais.
À época, as proibições instituídas pelo código tiveram efeito pior do que banir o personagem homossexual do cinema; elas mudaram a sua representação, instituindo apenas a possibilidade de 2 papéis: a de antagonista naturalmente perverso ou a de personagem trágico. A galeria de vilões de clara, porém jamais aberta, orientação homossexual é extensa.
Em “Festim Diabólico” (1948), obra-prima de Alfred Hitchcock, a dupla de assassinos que desafia o personagem de James Stewart em um jogo psicológico é carregada de desejo homoerótico. Os vilões de muitos filmes do agente 007, como foi brilhantemente dissecado por Umberto Eco em seus ensaios, são em sua maior parte gays naturalmente malévolos ou dotados de uma incurável mania de grandeza.
Mais grave e danosa do que esta representação, porém, foi a ideia de que o destino do personagem gay deveria ser sempre trágico, fosse pela falência de suas ambições dentro do universo narrativo ou pelo proibido do seu desejo. Como não esquecer a emocionante cena final de “Juventude Transviada” (1955), de Nicholas Ray, em que o personagem de Sal Mineo, apaixonado pelo de James Dean, comete o sacrifício final para salvar o amigo? Ou a cena em que a governanta da personagem-título de “Rebecca, A Mulher Inesquecível”, também de Hitchcock, manifesta sutilmente ao abraçar um casaco o desejo que sentia por ela? Este último caso revela também o quanto Hollywood era severa com personagens homossexuais femininos, retratando-nas frequentemente como megeras sem coração.
Elizabeth Taylor, por sua vez, protagonizou 2 adaptações bem-sucedidas de peças de Tennessee Williams ao cinema que tratavam o tema homossexual de forma parecida: “Gata em Teto de Zinco Quente” (1958) mostrava Paul Newman como um ex-jogador (não abertamente) homossexual frustrado e alcoólatra, e “De Repente, No Último Verão” (1959) em que a personagem de Taylor sofreu o terrível trauma de assistir o seu primo, homossexual, ser linchado enquanto passavam férias num vilarejo espanhol. A cena que descrevia esse linchamento foi filmada de forma idêntica à observada em “Noiva de Frankenstein” (1934) e a mensagem era uma só: se viveram como monstros, deveriam morrer como monstros.
Qualquer cena ou argumento que tratasse o personagem gay de forma aberta estava destinado a alguma censura, fosse da MPAA ou dos próprios produtores/cineastas. Dessa forma, um romance sobre um escritor alcoólatra e sexualmente confuso (“Farrapo Humano”, 1945) virou um filme sobre um escritor alcoólatra com bloqueio. Outro romance, sobre ataques a homossexuais e assassinato, se tornou um filme sobre antissemitismo e assassinato (“Rancor”, 1947).
Uma cena de “Spartacus” (1960), em que há uma relação de erotismo entre 2 homens, tão comum e popularmente conhecida como típica da Roma e Grécia Antigas, e um diálogo sugestivo, foi cortada da versão final. O mesmo, por outro lado, não acontecera um ano antes com a antológica cena final de “Quanto Mais Quente Melhor” (1959): ou seja, se o romance gay fosse sugerido como real, não era tolerado, se fosse para efeito cômico, aí continuava não havendo problema.
Os primeiros sinais de mudança vieram do outro lado do oceano, principalmente do cinema inglês, que na década de 1960 começou a tratar da temática homossexual de forma aberta. Em 1961, “Meu Passado Me Condena” trazia Dirk Bogarde no papel de um advogado homossexual que decide processar um chantagista que ameaça expor a vida secreta de alguns homens ao mundo. Foi uma das primeiras vezes em que o termo homossexual era usado em um filme.
O cinema autoral europeu, em muito motivado pela conjuntura histórica da década de 1960, retomaria a temática gay em inúmeros clássicos. “Satyricon” (1969), de Fellini, abordava abertamente o erotismo homossexual. Antes dele, a obra-prima “Persona” (1966), de Ingmar Bergman, explorou a tensão homossexual entre 2 mulheres de maneira única, igualada posteriormente na década seguinte com “Gritos e Sussurros” (1972). Durante a década de 1960, Pier Paolo Pasolini fez o brilhantemente iconoclasta “Teorema” (1968), em que usava a homossexualidade como uma das armas para libertação de uma família burguesa.
Mas do lado de cá do oceano, o destino trágico continuava sendo a regra para o personagem homossexual. Em “Crimes Sem Perdão” (1968), Frank Sinatra interpretava um detetive que investigava mortes de homossexuais. Em 1980, William Friedkin faria “Parceiros da Noite”, em que o personagem de Al Pacino era um detetive infiltrado no “submundo gay”.
Poucos filmes foram tão eficazes em reforçar estereótipos negativos. E nesta mesma década, Hollywood teria uma tragédia real para aplicar aos seus personagens gays: surgiram aqueles cujo destino estava selado por contraírem AIDS. O representante máximo desse modelo talvez tenha sido o personagem de Tom Hanks em “Filadélfia” (1993), que lhe garantiu um Oscar (e um exemplo de papel a ser premiado num filme para tantos outros atores e atrizes que o repetiram).

Mas se a primeira metade da década de 90 ainda não tinha observado mudanças sensíveis no tratamento do personagem homossexual, ela ao menos permitiu intensificar o volume desses personagens, principalmente o feminino, observado com destaque em “Thelma e Louise” (1991), de Riddley Scott, e em “Tomates Verdes Fritos” (1991), de Jon Avnet, ambos com finais trágicos.
Havia, porém, uma geração de cineastas que cresceu com acesso à produção independente da década de 70 e ao cinema europeu, livres de estereótipos. Com isso, provavelmente assistiram às produções de John Waters com o travesti Divine, notadamente os brilhantes “Pink Flamingos” (1972) e “Female Trouble” (1974), além de filmes de muitos outros diretores do underground da época, como o ícone “The Rocky Horror Picture Show” (1975).
O cinema nos últimos anos
O resultado é facilmente observado em uma pesquisa no IMDB (www.imdb.com), maior banco de dados de cinema do mundo, sobre filmes que contenham alguma temática gay. Dos mais de 4.200 filmes listados, apenas 1.000 foram produzidos anteriormente a 1996. Os restantes datam deste ano até 2011. Foi na década de 90 que o premiado diretor Gus Van Sant ganhou reconhecimento com “Garotos de Programa” (1991), em que abordava o relacionamento entre 2 deles. Ou que o fenômeno australiano “Priscila – A Rainha do Deserto” (1994), mesmo com todos os seus estereótipos, conseguiu apresentar travestis a uma audiência ampla pela primeira vez na história do cinema.
Essas primeiras conquistas ecoaram pelos anos 2000, que observou um verdadeiro boom na produção de filmes de temática gay. Pela primeira vez, em mais de 100 anos de cinema, o personagem homossexual foi representado em todas as suas complexidades. E deixou de ser o personagem para se tornar os personagens. Um garoto que descobre a sua própria sexualidade pode, por exemplo, encontrar ecos e questões relevantes no belo filme inglês “Delicada Atração” (1996), no divertido alemão “Tempestade de Verão” (2004) ou no emocionante filme tailandês “The Love of Siam” (2007).
Por outro lado, aqueles que procuram o lado sócio-político do tema encontram diversos ângulos: o político do grande “Milk” (2008), de Gus Van Sant, o religioso no brilhante e corajoso documentário “For The Bible Tells Me So” (2007), sobre como famílias católicas ou protestantes lidam com filhos e filhas homossexuais, ou o comportamental de “Kinsey” (2004) que expôs a uma grande audiência as descobertas do doutor Alfred Kinsey sobre a complexidade da sexualidade humana.
Se os critérios forem severos, podemos afirmar que o mundo tem apenas uma década e meia de produção de filmes a respeito dos mais diversos aspectos que envolvem a homossexualidade. O espaço de tempo é curto e certamente ainda há muito o que desenvolver no que diz respeito aos filmes de gênero e às complexidades de personagens gays. Se a nossa relação com o cinema pressupõe um diálogo que contribui na nossa formação, essa produção frequente torna-se ainda mais necessária.
Não se pode esquecer que, em 2006, “O Segredo de Brokeback Mountain”, o filme mais sério a respeito da temática a conquistar um grande público, perdeu inexplicavelmente o Oscar de Melhor Filme, após ter levado as 2 estatuetas que definem uma grande produção (a de Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Direção), para o inócuo “Crash”. Uma década e meia de conquistas não apaga do inconsciente coletivo 100 anos de repressão. A mudança apenas começou.
Como citar esse artigo
SILVEIRA, Fabio. O homossexual no cinema: o dilema da representação (Artigo). In: Café História. Disponível em: https://www.cafehistoria.com.br/o-homossexual-no-cinema-o-dilema-da-representacao/. ISSN: 2674-5917. Publicado em: 15 ago. 2011.
Sugestão de leitura
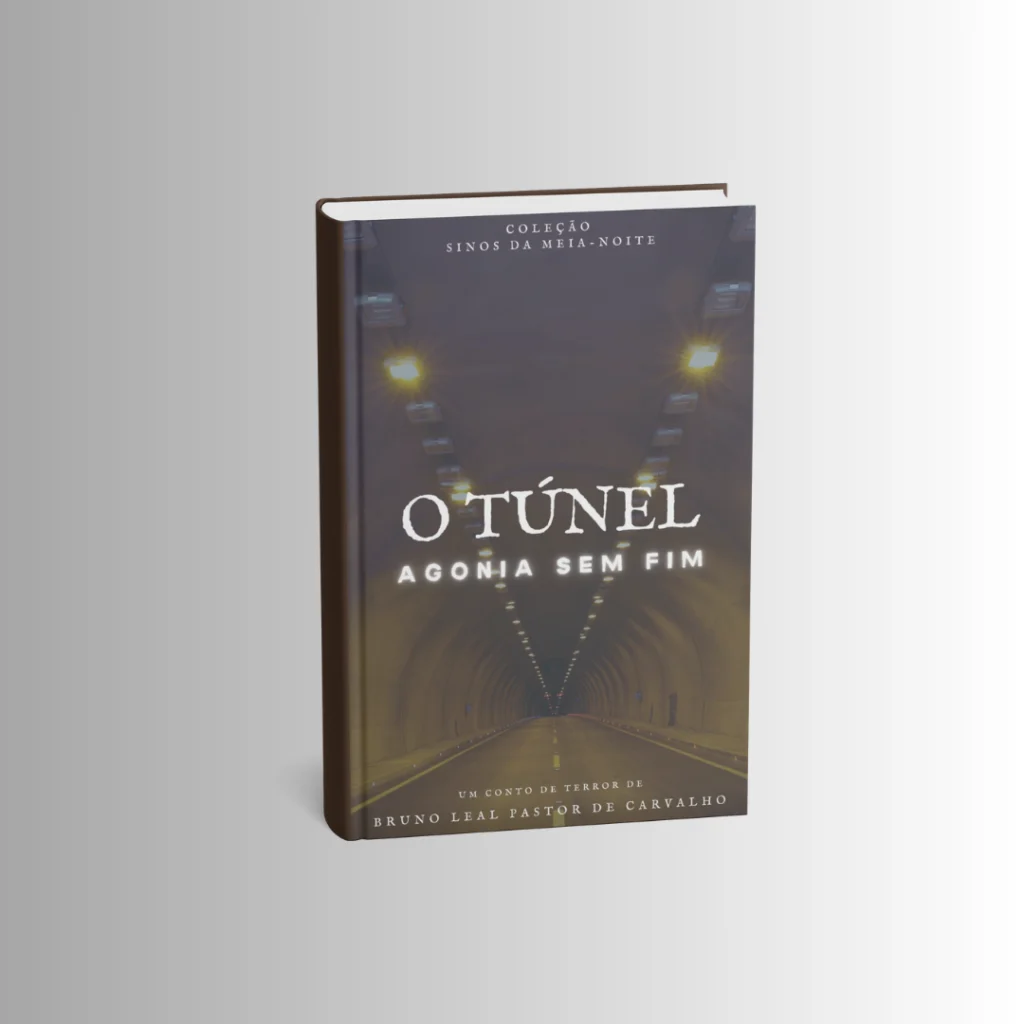
Glauber, um professor de história de 39 anos, entra em um túnel de sua cidade e nunca mais consegue sair de dentro dele. Ele não foi assassinado e nem sequestrado. É que o túnel simplesmente não tinha fim. Neste conto de terror psicológico, o historiador Bruno Leal explora medos e ansiedades modernas. Você nunca entrará num túnel da mesma forma. Clique aqui para conferir.

